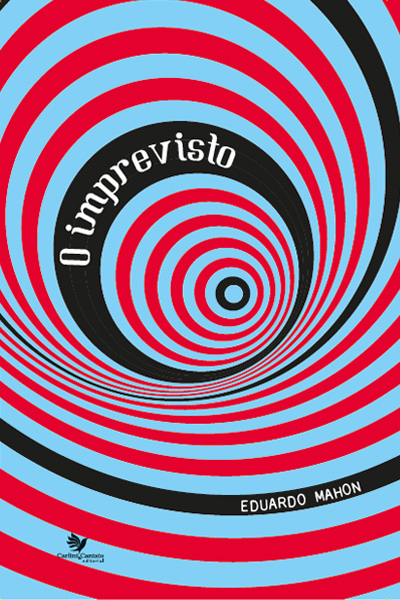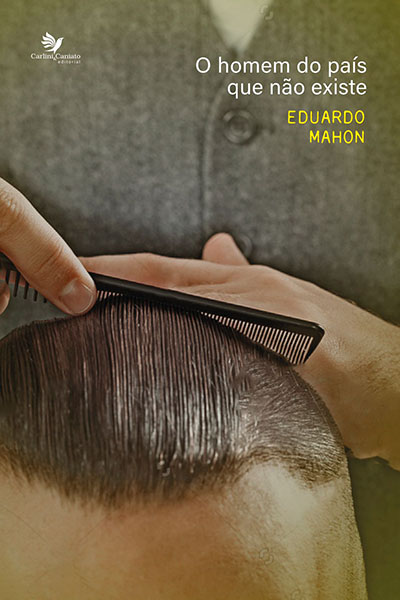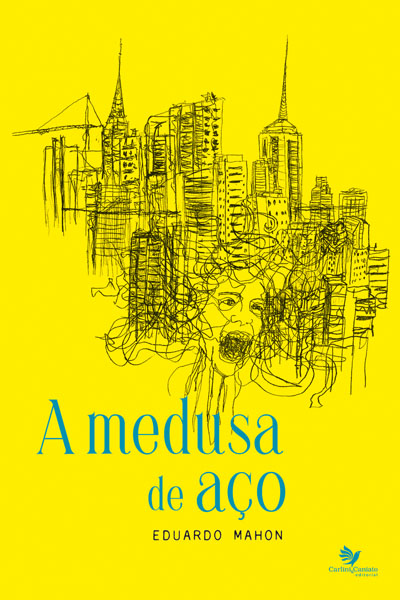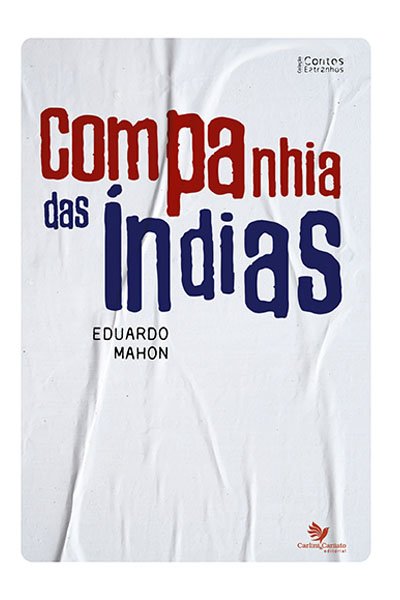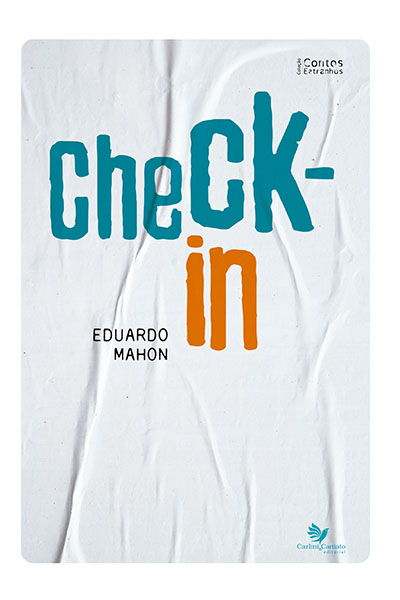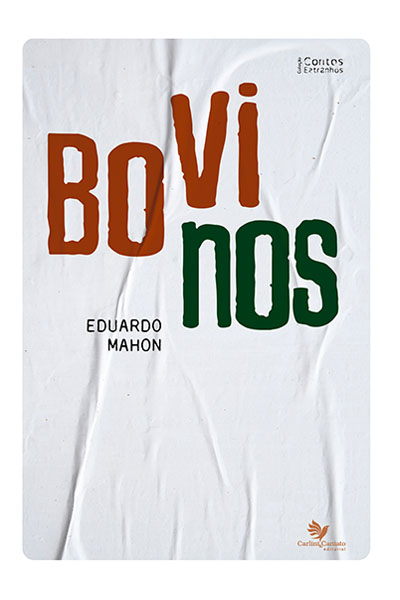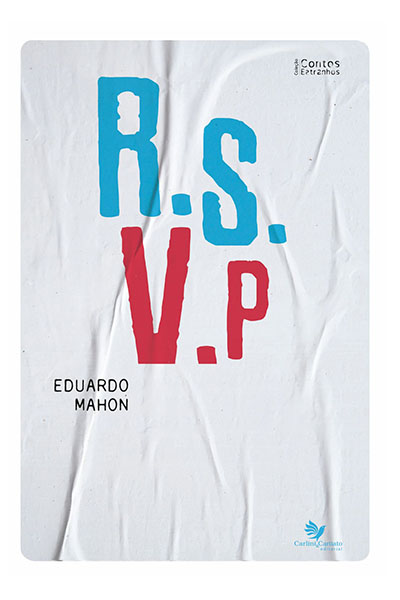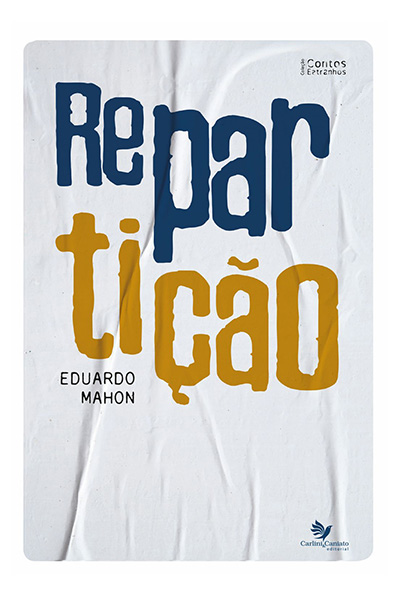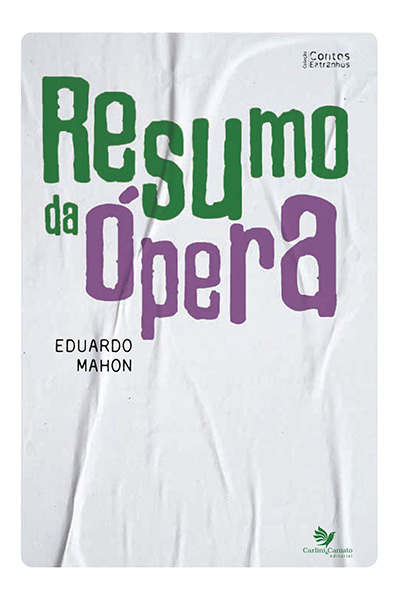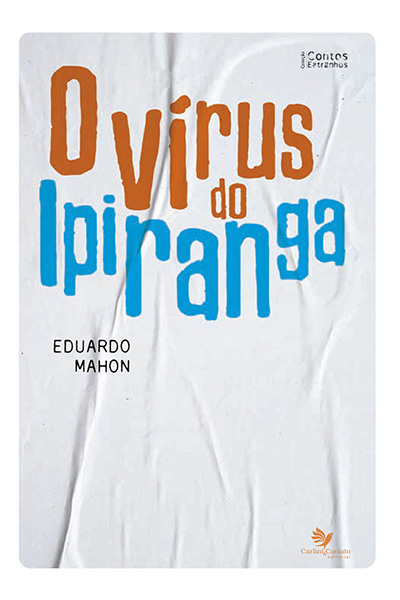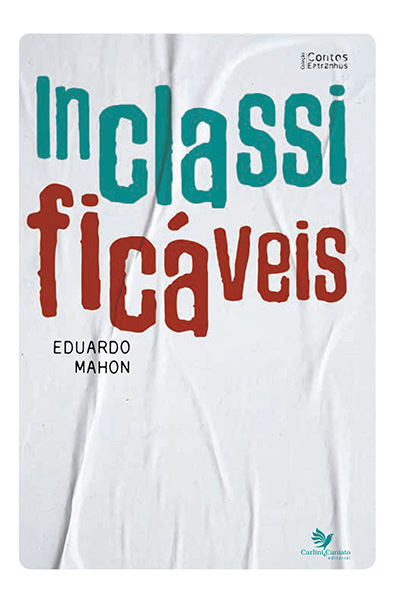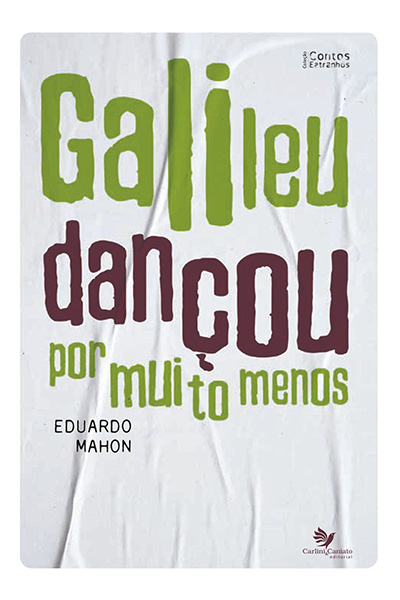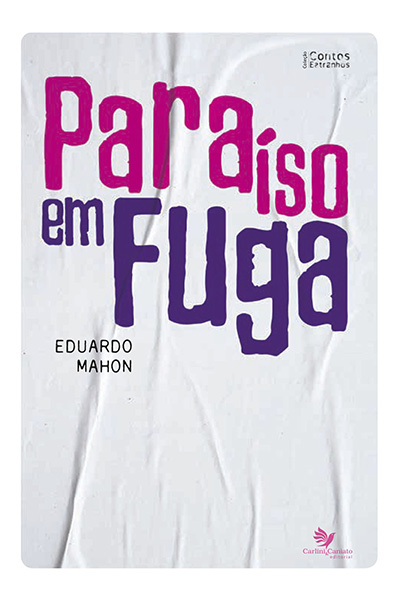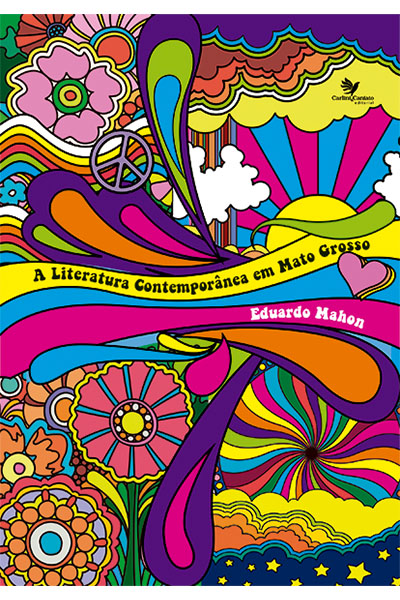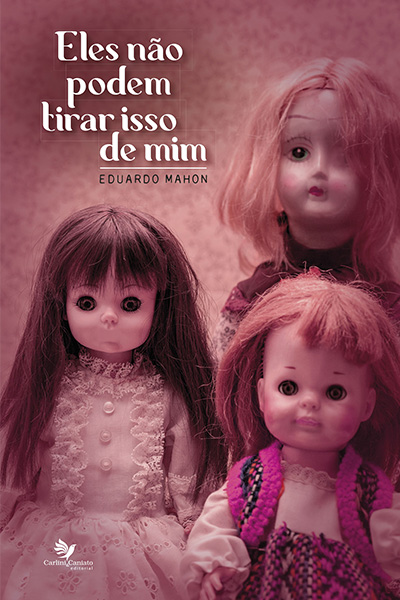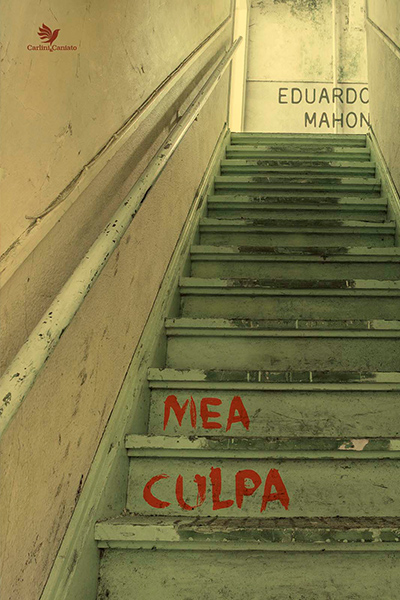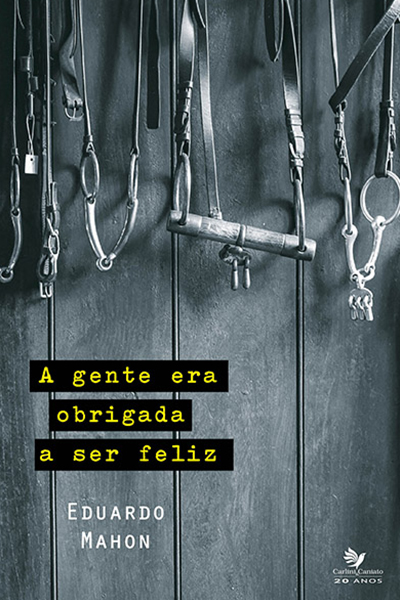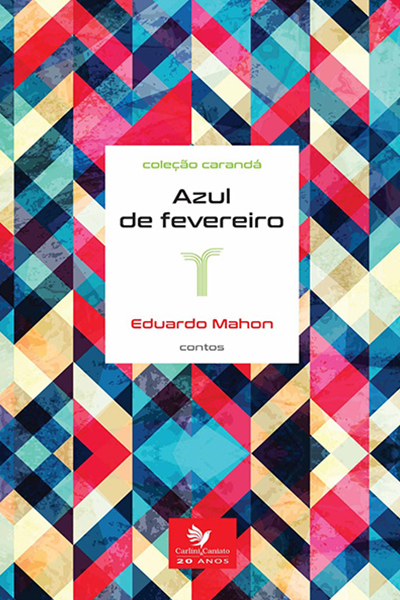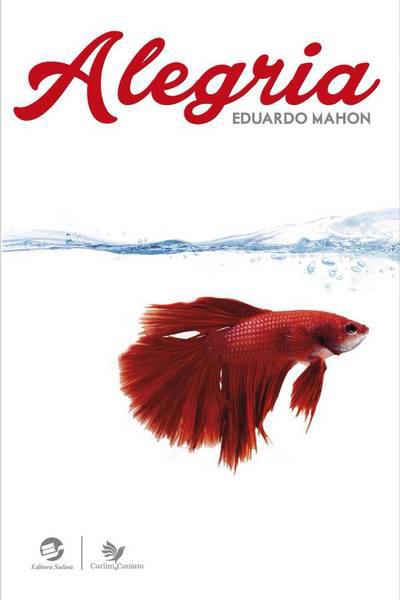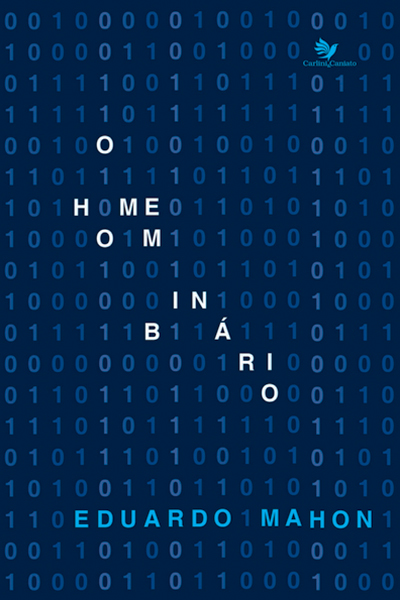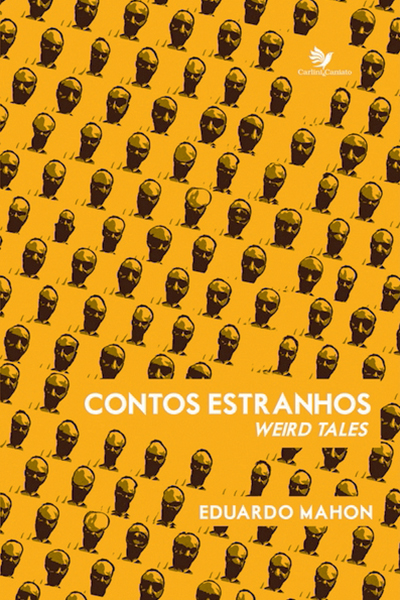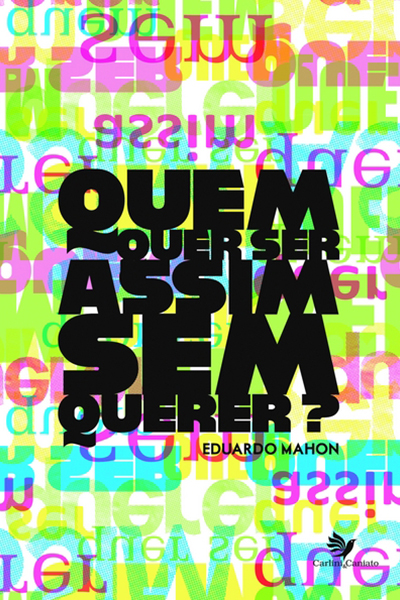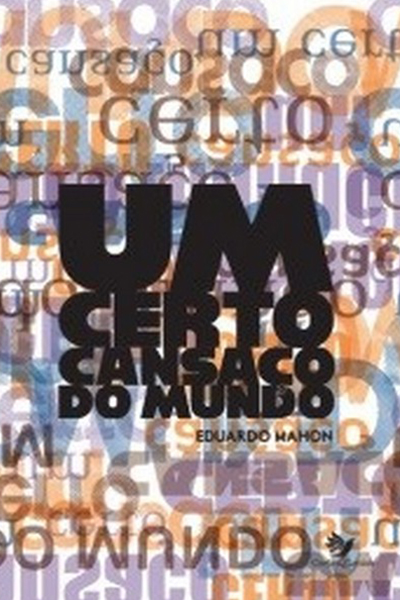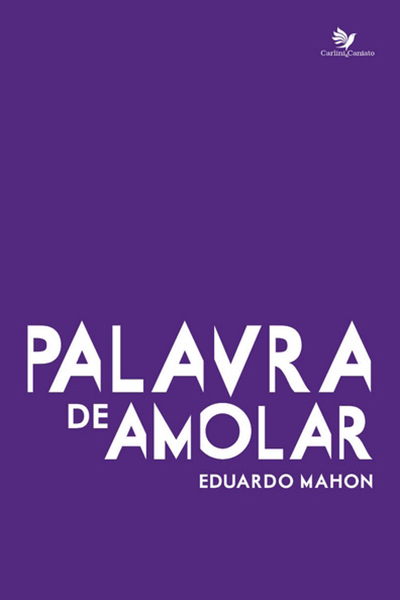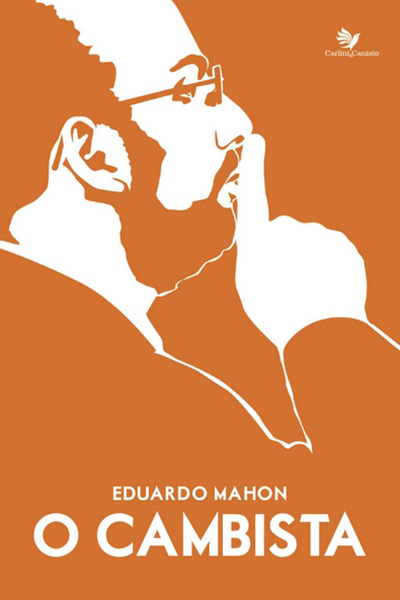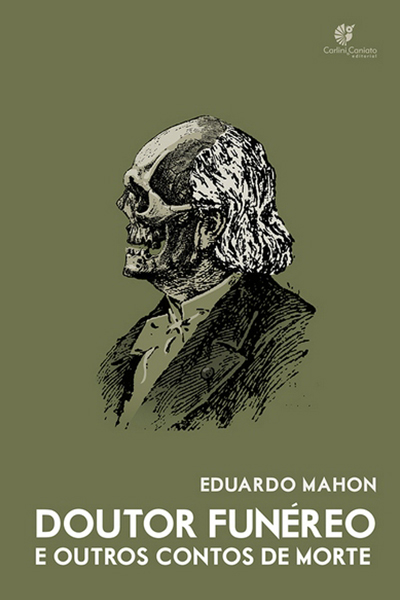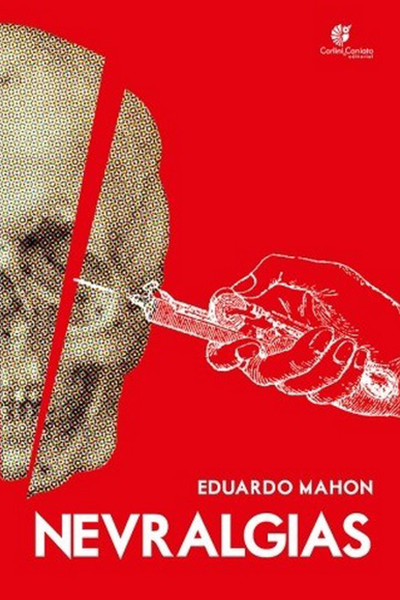FORTUNA CRÍTICA - OLGA CASTRILLON-MENDES
CIDADÃO DA IMAGINAÇÃO
Impressões de leitura do romance “O homem do pais que não existe”
Olga Maria Castrillon-Mendes
Não é incomum que os narradores de Eduardo Mahon assumam posturas extremas, ensejando também interpretações-limites, cujos encaminhamentos beiram a extremos das ações humanas. A crítica à ordem vigente está nas atitudes das personagens. Com o pincel de cores, espatula o quadro que afetará a retina e os sentidos do leitor. Nenhum deles passa incólume pelos trançados das histórias e pelas situações de desassossego, quando não de irritação. O interno e o externo se unem para serem diluídos por uma crítica sutil aos comportamentos contemporâneos. Há sempre uma necessidade latente de relacionar o irreal ao real, o tempo ao espaço de composição, as atitudes às tendências contemporâneas. Nesse sentido, a estruturação narrativa dos seus romances, sempre repletos de entrechos necessários, cortes abruptos, surpresas, entradas e saídas das personagens, carrega a atmosfera claustrofóbica, absurda e, muitas vezes, distópica.
Em O homem do país que não existe, perseguimos situações, sentimentos e estrutura semelhantes. O romance, ampliado de um conto (novela?) publicado em 2017, apresenta estratégia, ao mesmo tempo de retomada e de projeção. É o oitavo romance (em seis anos, entre 2017 e 2022) do escritor mais produtivo que temos em Mato Grosso.
A história de Santiago Ayza complementa a galeria de personagens atormentadas pelas buscas que empreendem. São personas divididas entre ser/não-ser e o próprio estar no mundo. Afinal, em que estágio/perspectiva se coloca o ser humano nas próprias buscas? Que mundo é esse (utópico/distópico) que se faz entre o conhecido e o desconhecido, a identidade e os deslocamentos? Santiago é, assim, mais uma de suas personagens posta nas ambiguidades, cuja oposição não tece pontos de encontros, mas de dispersão. As situações são de desencontros, pois é de um outro lugar (que não existe); as ambiguidades são da ordem do absurdo, do onírico e, por que não, de um pesadelo.
Incapaz de se saber “culpado” Santiago não reconhece a própria identidade: afinal, é de onde?! O tema da não identidade atualiza a narrativa, provocando questões acerca das estruturas de poder, muitas vezes tão bizarras, como aquelas apresentadas pela enfermeira do Hospital Central (do “corredor da morte”); pelo presidente Cabañas (afeito a pactuar alianças e fingir governar); pelo redator-chefe do Jornal Gazeta do Povo, cujo lema era “pressionar o governo [...], afinal, era quem pagava as contas e enchia os bolsos do proprietário”; pelo Promotor de Justiça, figura abjeta, mas que resolvia os piores processos, por isso designado para tratar do inquérito de Santiago; pela Ministra da Comunicação, uma das mais exigidas pelo presidente; pelo chefe de Polícia, encarregado de investigar o caso do “falsário”; pelo rigoroso Juiz da vara criminal, que vivia a corrigir ortografia das petições recebidas; pelo jovem ambicioso, que sonhava substituir o promotor de justiça; pelo chefe imediato de Santiago na República Hermoza, entre outras personagens responsáveis por esquadrinhar as situações narrativas causadas por alguém “vindo de um país pouco ambicioso em termos econômicos, mas muito honesto nos assuntos públicos” (p. 67).
As diferenças entre um país que não existe (mas funciona), e outro que tem tudo para funcionar (mas está engessado), gera o prazer estético colocado na participação e apropriação das situações narrativas pelo leitor, à medida que percebe sua própria atividade recriativa e de identificação. O texto é, neste caso, uma provocação, espelhada na bem escolhida epígrafe inicial retirada do romance Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Semelhantes processos de formação histórica e social aproximam os espaços das duas narrativas, o que lega ao escritor uma postura política. É possível observar essa tendência em dois níveis: no emprego do insólito, como uma solução para os confrontos internos da narrativa, e na utilização de vozes, cada qual puxando para si o protagonismo da história, que fica na dubiedade entre o país que não existe e o cidadão que se diz oriundo dele. Afinal, todos têm seu espaço e todo espaço tem seu Santiago Ayza. A tal ponto que leitor e narrador se confundem.
Desta forma, a qualidade literária de Eduardo Mahon não está apenas nos temas que elege, mas na forma que estetiza. É na estrutura que a estética se impõe. De um lado promove o recorte da realidade, elege o cenário espaço-temporal e concentra os atributos nas personagens; de outro, narra e dialoga com a condição humana, lugar das duas tendências associadas: a política e a literária, muito bem adaptadas ao contexto brasileiro e latino-americano.
Costumamos ver o nosso destino social e histórico na literatura, na poesia, na música e em outras artes iluminadoras do fenômeno humano. Na fronteira entre o lúdico e o sério, mas sempre jocosamente, residem as estapafúrdias situações da vida (e da morte) tão ao sabor das reflexões do autor, que aqui estão alegorizadas no percurso de cada personagem. O resultado dessa simbiose é certa dimensão dos sentidos que adquirem os paradoxais “rostos” da sociedade, misto de racionalidade/irracionalidade. Entre o excesso e a falta, a humanidade se expõe aos riscos e à autodestruição. Sem a noção de equilíbrio estamos, inextricavelmente, marcados por toda sorte de infortúnios, misérias e desagregação.
Por essas e outras abordagens, vejo aqui uma narrativa de percursos em que os fragmentos são costurados pelo leitor. O tempo pode estar entre o primeiro fragmento e o último, portanto, da memória (ou do sonho?), em cujos meandros são apresentados imbróglios administrativos, jurídicos, sociais mesclados às lutas de Santiago Ayla para ser identificado como cidadão de Passos, uma cidadezinha do país que não existe. Afinal, onde se coloca o “real” anunciado na primeira linha do romance? Para onde foi o “conhecido cenário” do último parágrafo? O tempo é uma categoria que pode se restringir apenas ao que conseguimos internalizar. Ou como diz o escritor, é construto do ser exilado em busca da cartografia sentimental.
Essa estrutura intrincada é responsável pela novidade buscada por Eduardo Mahon a cada livro que lança, numa insana busca de fortalecimento da participação do leitor, a partir de dois processos: da construção narrativa e da elipse no percurso de cada personagem em busca da própria identidade. Esses processos podem causar certos incômodos na montagem da trama, pois a história não se dá gratuitamente. Acontece em sobressaltos e flashbacks que formam as tranças em que o leitor se enreda. Tal atmosfera deve-se à sequência de surpresas (surreais) que são aquelas oferecidas a nós pela sociedade contemporânea.
São algumas impressões causadas pela leitura do romance, uma espécie de convites para os prazeres de um texto literário em que posso me ler e ler o meu país, que parece não existir.
Referências
BENJAMIN, Walter. O autor como produtor (1934). In: ______. Obras escolhidas I: Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 120-136.
MAHON, Eduardo. O homem do país que não existe. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2022.
______. Contos estranhos. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2017 (123-237).