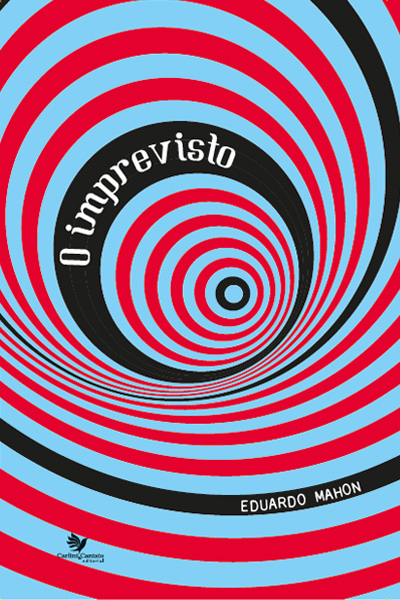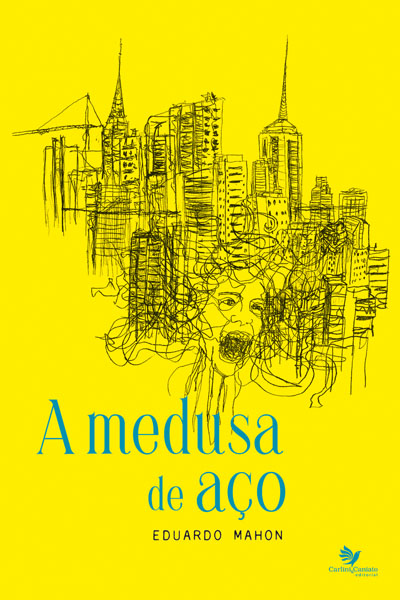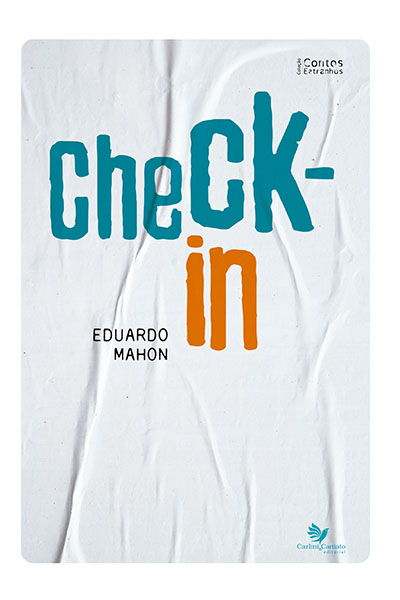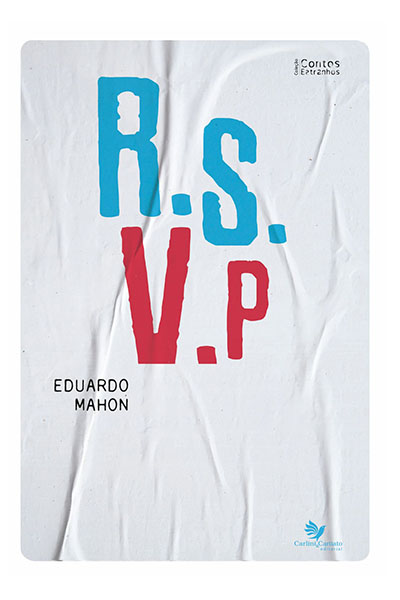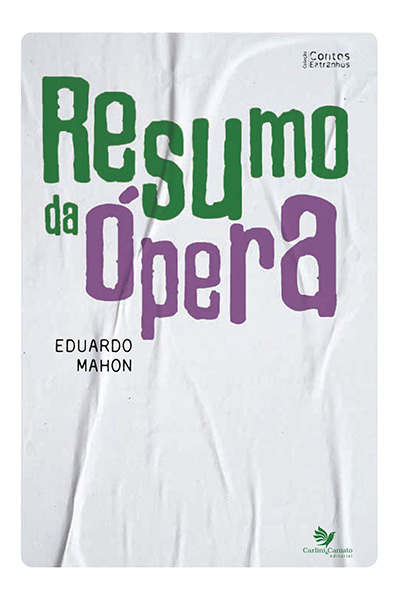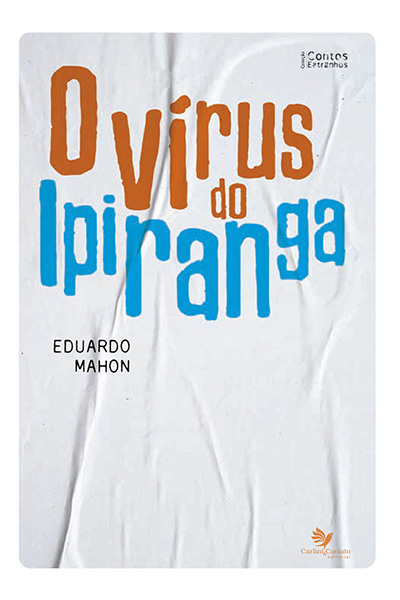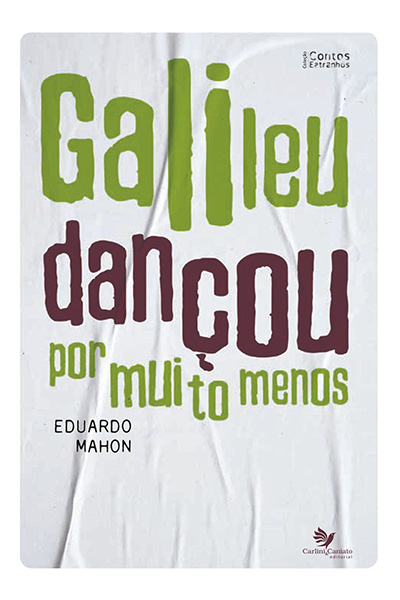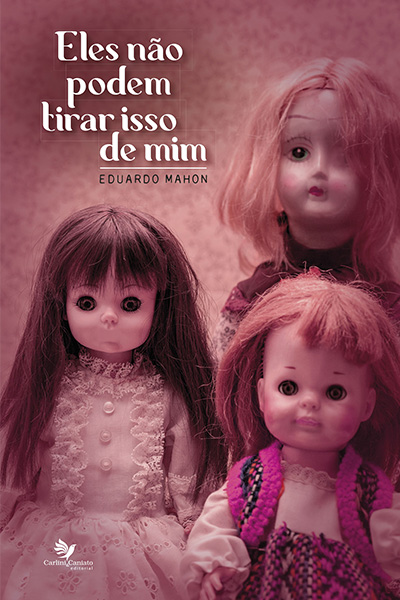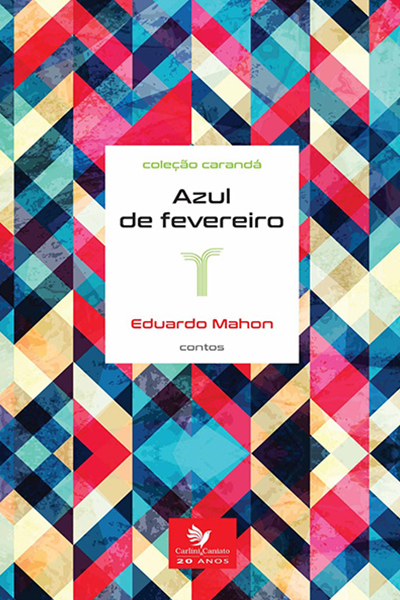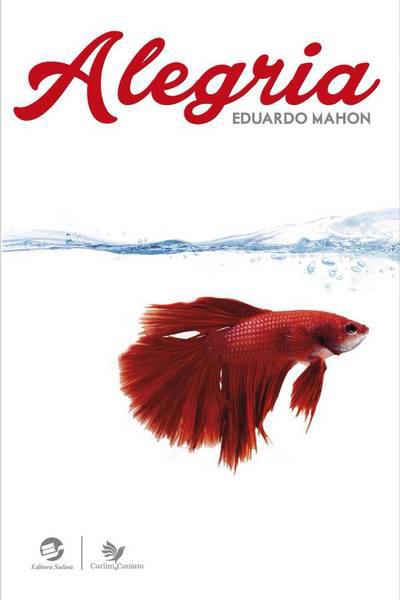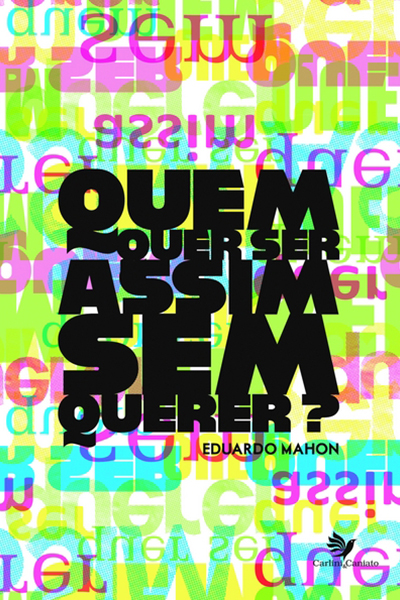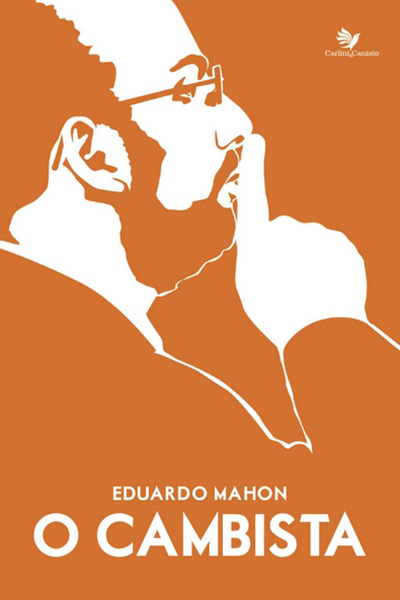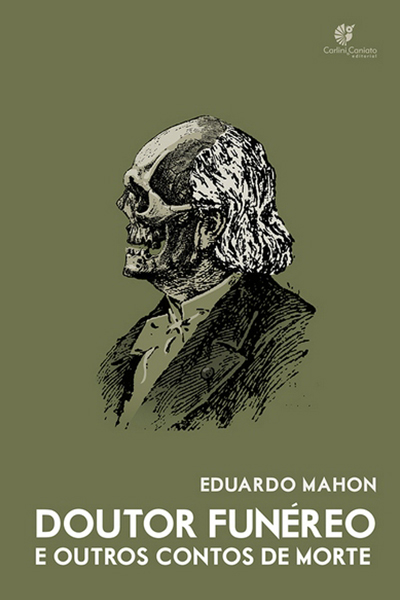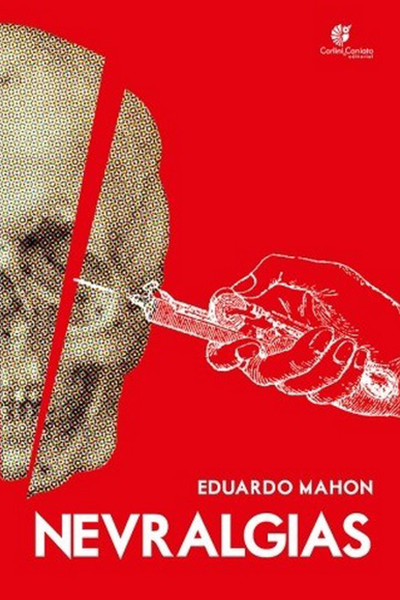SINOPSE
MEA CULPA – Ramalho é um escrivão em fim de carreira quando se depara com o caso mais difícil de sua vida: o caso da mulher que matou a mãe. O enredo do sexto romance de Eduardo Mahon problematiza a obsessão moderna pela busca pela verdade na qual o ser humano pode despedaçar suas certezas. O protagonista compartilha com o leitor o julgamento ético da personagem que chegou ao limite da existência.
OLGA MARIA
MAHON, Eduardo. Mea culpa. 1 ed. Cuiabá: Carlini & Caniato Editorial, 2020
CULPA IMPUTADA OU ASSUMIDA?!
Mea culpa, de Eduardo Mahon, é um romance ardilosamente construído por sobreposição de histórias. Uma, a que parece ser a mais relevante, é da mulher que matou a mãe; as outras surgem ao longo da narrativa entre lances de memória.
Intercalada pela história de Heloísa Maciel, emerge a de Abelardo Ramalho, o narrador-personagem. A marcação textual dos parênteses possibilita uma leitura paralela em que se desenrola a vida nada fácil do funcionário de uma Delegacia de Homicídios instalada “entre a Matriz e os puteiros”. Em fim de carreira, já apresentando sinais de debilidade física, o narrador-personagem é fruto de perdas, inclusive a do cargo de delegado. Ao assumir um determinado campo de ação cultural, e penso nesse sentido com Pierre Bourdieu (1996)[1], a personagem assume práticas específicas, oriundas de sua atuação profissional, que determinam os códigos de valores pelos quais observa, registra e/ou julga os acusados. Ao lidar cotidianamente com a dúvida, que é também a do leitor, Ramalho estrutura um campo simbólico de ação legitimadora das representações da própria memória.
O desabafo inicial do narrador incide sobre certa necessidade de relatar o acontecido “com o máximo de verossimilhança, pois na verdade, matricídio não é fato corriqueiro. Até mesmo na DHPP, um caso daqueles era uma raridade; “A gente aprende que mãe é um ente quase sagrado, intocável” (p. 7-15).
Eis os impulsos mobilizadores das histórias: o crime e o local da confissão, ou seja, as duas geografias que serão motivadoras das transformações, tanto da narrativa quanto dos envolvidos nos fatos:
Afinal de contas foram 30 anos na Delegacia. Ver o que vi nesse tempo todo metido o dia inteiro na DHPP, plantão atrás de plantão, pode, sim, deixar qualquer pessoa comum de parafuso solto, sem dúvida alguma. No entanto, por mais que eu sofresse com meu joelho ruim, minha cabeça sempre esteve boa (p. 187).
Uma vida toda se resume no resultado do ambiente a que o indivíduo está exposto. Cria uma reunião de influências construídas na coexistência das instâncias produtoras de valores culturais. Na ótica de Bourdieu (op. cit.), é o conceito de habitus. Uma subjetividade socializada, apropriada e posta em prática num determinado campo de estímulo. Nesse comportamento reside a relação entre o indivíduo e a sociedade, cujas bases se colocam, dialeticamente, entre as tensões externas e os comportamentos humanos, propícios para pensar o mundo contemporâneo.
Por isso, a história de Heloísa Maciel é formadora da tensão que detona o mecanismo da memória do narrador desde os medos adolescentes das doenças venéreas, desencadeadas pelo histórico da doença da mãe, a sífilis, ou a homossexualidade da acusada que faz emergir a tragédia com o filho gay do delegado Bibiano: “Aos 16 anos começou a se vestir de mulher. Sabe-se lá o motivo, ele gostava de colocar os sapatos da mãe” (p. 153-164).
Pelos parênteses, então, surgem outras histórias que superam a história da mulher que matou a mãe. A marcação textual serve, também, para desabafo do narrador: “acho oportuno abrir esse parêntese para desabafar uma sacanagem que a DHPP sofria muito no meu tempo e, pelo jeito, continua sofrendo” (p. 100); ou para falar de política: “Grande merda a democracia”; “Esses políticos são todos malandros” (p. 102). Ou, ainda, para observações livres. Funcionam, assim, como elemento de interrupção para julgamentos: “A investigação policial é um jogo de xadrez” (p. 258); “Vou aproveitar o finalzinho do intervalo para contar um fato curioso antes que a história acabe” (p. 262). Esse dinamismo narrativo, próprio do jogo, conduz o leitor a constantes julgamentos das personagens, muitas vezes permeados por critérios de valores morais.
A história dentro das histórias desloca o foco da indiciada para o narrador. Ao escrever/registrar os depoimentos da mulher, o escrivão narra sobre si mesmo. O que ele conta? As memórias da DHPP que são suas memórias, iniciadas pela forma como conseguiu o emprego de escrivão por conta da falência do pai: “escrivão era o máximo que eu seria na vida. Pelo menos sustentei os velhos até fecharem os olhos” (p. 86), numa espécie de auto-comiseração específica do processo de construção da identidade da personagem.
Desta forma conduzida a leitura, tanto pelas atitudes pessoais como pelos resultados destas sobre o indivíduo, é possível observar quatro momentos em que o leitor adentra nas histórias, enfrentando os desafios propostos pela narrativa.
O primeiro momento de inserção se resume nos impactos causados pelo frio depoimento de uma mulher que diz ter matado a mãe. No clima de perplexidade, a atitude tranquila da mulher causa o primeiro choque no ambiente policial: “Eu gostaria de comunicar que acabei de cometer um crime”. [...]. “Eu matei a minha mãe” (p. 8-9). As ações oriundas do relato fornecem os detalhes, tanto dos resultados dos variados depoimentos das testemunhas arroladas, quanto dos fatos que fazem aflorar as lembranças do escrivão-narrador. Nesse caso, a memória, como analisa Maurice Halbwachs (1990)[2], faz parte de um processo psicológico básico reconhecido pelo já visto e reconstruído pelo resgate dos acontecimentos e vivencias em contextos atualizados. Localiza-se, portanto, num determinado espaço e no conjunto das relações sociais, como acontece com o encadeamento das histórias recriadas pelo narrador: o caso do rapaz que estripou o irmão gêmeo com uma chave de fenda; a policial que matou o companheiro com uma bala no peito e foi ter o filho na prisão; o homem traído que faz picadinho da mulher; o agiota encontrado no freezer; o marido que matou a mulher por conta de sexo selvagem; o matador que virou pastor; o casal que matou o próprio filho porque chorava demais; a criança de 6 anos entalada com o bolinho chinês; as apostas que se faziam na Delegacia sobre os presos; o cara que matou o pai e casou com a mãe e por aí afora. Constrói-se, assim, o lastro dos depoimentos e dos relatos da memória de Abelardo Ramalho.
O segundo momento, é o perturbador espaço da Delegacia marcado pela predominância dos sentidos: “O cheiro que tenho na memória, fedor insuportável para quem nunca pisou numa delegacia de polícia, entranhava na pele e saía somente com a aposentadoria, talvez apenas com a morte” (p. 95-6). O odor permeia o campo das lembranças e determina as atitudes da personagem. O uso do imperfeito é o tempo da memória do narrador, denotando um passado não completamente terminado. Então, a continuidade da ação se presentifica, impulsionada pelos depoimentos. Nessa temporalidade, a vida se tece à medida que episódios se desenrolam e a pessoa se transforma: “meu paladar foi desaparecendo. Era estranho não saber a diferença entre peixe e frango [...[. O fato é que a comida não tinha o mesmo gosto de antes, não sentia nem o cheiro. Ao completar dez anos de serviço, eu parecia mais um zumbi: não sentia a minha pele”. [...].
O espaço constrangedor/aniquilador faz da personagem um ser duplo, alguém que não mais se reconhece:
O escrivão Ramalho estava lá, datilografando depoimentos, preso aos formulários, enquanto eu estava num cinema comendo pipoca. Passados outros quinze anos deixei de escutar aquilo que não interessava e de ver o que não queria [...].
Eu desligava da tomada, digamos assim. Era a forma que encontrei para me afastar daquilo tudo. Cheguei ao limite no interrogatório do casal que matou o próprio filho [...].
Depois daquele interrogatório, fiquei sem dormir direito por duas semanas, um inferno” (p. 67-8).
Éramos peça de museu” (p. 143).
O que sobraria de um ser além de fragmentos de outras vidas, também elas em frangalhos? Apenas estranhos sonhos datilografados e em palavras que fugiam do papel para compor o substrato das vidas expostas e a artesania do romance.
No terceiro momento predomina o hábito adquirido pelas ações cotidianas que embasa o mote das histórias, alinhado pela epígrafe inicial do romance, retirada Memórias da casa dos mortos (The house of dead or prison life in Siberia), de Fiódor Dostoiévski (1860). Da mesma forma que as imagens da prisão subsistem na narrativa do escritor russo, o narrador de Mea culpa também ele é fruto das memórias do subsolo que geram atitudes paradoxais do ser humano. Daí a atmosfera sombria, até certo ponto sorrateira do narrador ao se aproveitar da história da mulher para contar a sua própria história. Entre os exaustivos depoimentos que sustentam a hipótese da culpa, o narrador puxa para si o foco da história. Suspende a narrativa da culpada para narrar outras em que se sobreeleva a sua “biografia”.
Ao registrar os depoimentos, Abelardo Ramalho se inscreve na narrativa através do deslocamento da ótica do crime que aumenta a dramaticidade da narrativa pelos variados lances, nervosamente, acompanhados pelo leitor. Assim, a cada capítulo, o clímax é adiado por dois impulsos: o da previsibilidade, cujos indícios estão nos depoimentos e nas notícias jornalísticas, e o da estranheza, causada pelos retalhos da memória do escrivão. Entre o visível e o ocultado, a história do crime serve de pretexto para detonar os dramas humanos das personagens que gravitam no romance, notadamente, os delegados do DHPP, cujos detalhes contribuem para aumentar a dramaticidade e costurar o clímax que recairá no desfecho aberto a variadas interpretações.
O epílogo enfeixa o último momento de entrada no texto. Ao fazer o depoimento conclusivo, a acusada mobiliza as atitudes dos funcionários da Delegacia. Que processo psicológico é acionado a partir do momento em que todo um sistema de funcionamento da estrutura penal é colocado em xeque? Dostoiévski creditava ao ser humano uma tendência ao caos aqui simbolizado pela tensão latente causada pelo retardamento do depoimento da mulher que matou a mãe. Ela confessa o crime na primeira ação do romance, mas só consegue concluí-lo no último capítulo. É a metáfora que rege as histórias. Enquanto o depoimento fica inconcluso, o narrador metaforiza a própria sociedade através do alinhavo dos fatos vivenciados como funcionário da Delegacia. Ou seja, entre o sentido da vida diante da morte está a busca de um sentido para a própria vida. Talvez por isso no subsolo da memória resida a luta constante entre os códigos de conduta e de ética do sistema e aqueles criados pelo habitus.
Ao final, a narrativa retorna à iluminadora epígrafe, de Memórias do escritor russo. Os narradores se assemelham. Ao mesmo tempo em que se moldam ao meio, cultuam um lado oculto capaz de ações incalculáveis, o que pode explicar a preocupação inicial do narrador em preparar o leitor para as possibilidades de ler para além do visível ou para o que não se vê a olho nu.
De certa forma, escrever é para o narrador-personagem de Mea Culpa, fonte de prazer, talvez um dos poucos em tão parca vida, apesar de ser um pesado ônus do ofício. A linguagem é a expressão da sua dura realidade. Talvez, por isso, à medida que o processo vai se avolumando, a memória é acionada. Por sua vez, a suposta criminosa Heloísa, tem o desejo de rever o passado e de aprender para além dos cansativos cuidados com a mãe. Por ela deixou de viver. São então, dois modos de pensar que se entrecruzam e a tensão sobressai no momento de sinceridade que se alterna com a auto-justificação, busca da legitimidade e até do sentimento de elevação.
No jogo marcado por variadas nuances, os dramas pessoais começam e terminam com os toques da máquina de escrever na sensação de alívio do dever cumprido e na imagem intermitente do movimento das mãos da acusada, sempre “descansando em paz”. Entre o silencio mortal e as teclas da máquina, o narrador finaliza o relato da depoente e o seu próprio.
É o espaço lacunar em que pensamentos vagam entre as lembranças e a incorporação delas no corpo e na mente. De tão fortes, não é possível retirá-los mesmo se lavados com água quente e bucha vegetal num movimento de “esfregar até que da [minha] pele saíssem não só a memória, mas também o odor de remorso que se somava ao conhecido cheiro da Delegacia” (p. 339).
De quem seria a culpa maior? De quem julga ou de quem assume? Como no “ambiente de ressaca de uma quarta-feira de cinzas” em que se dá a confissão da mulher que matou a mãe, fica o leitor em busca de respostas, ou imerso em reflexões causadas pelas duas pontas do novelo: a visível, pelo qual se puxa o fio, ou a não-dita em que se embaralham as histórias?!
Nem mãos, nem olhos acusam alguém: “As partes não dizem absolutamente nada sobre alguém, pois na vida não importa exatamente quem fala, mas quem escuta e passa adiante”. “É preciso, sim, escutar melhor” (p. 343, grifo meu). O fato da escuta pode ser a prova maior de que a verdade é móvel e está, talvez, nas chagas do próprio sistema e dos acontecimentos. Um inquérito pode se concluir pela dúvida. E quem se liberta de uma?!
Em, Cáceres-MT, quarentena de 2020
[1] Bourdieu, P. As regras da arte: gênese e estruturação do campo literário. Trad. Maria Lúcia Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
[2] HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Laurent Léon Schaffer. São Paulo: Vértice, 1990.